Haroldo Figueira.
Entre as lembranças que guardamos para a vida toda, a comida preparada pelas nossas mães ocupa lugar de destaque. Difícil não recordar daquela boia, geralmente simples, mas que, talvez pelo fato de ter sido produzida por pessoas que amamos muito, agregue diferencial afetivo ao valor gustativo ou, até, porque fomos criados aprendendo a saboreá-la, inscreveu-se de forma indelével em nossa memória
Tal opinião não é exclusivamente minha. Com efeito, quem já não ouviu narrativas de homens e mulheres que, após um período de ausência, ao retornarem ao lar de sua infância e juventude deleitaram-se não só com a oportunidade de matar as saudades dos seus genitores, mas também a de experimentar novamente as memoráveis comidinhas da mamãe, até mesmo as mais frugais como um feijão, uma sopa, um macarrão ou uma salada?
Aliás, não preciso dar tratos à bola para convencer-me da consistência dessa tese. Meus filhos, por exemplo, quando a mãe resolve cozinhar alguma coisa que ela sabe que eles gostam, convida-os para almoçar ou jantar. Só recusam se houver algum impedimento realmente incontornável. Caso contrário, o convite é aceito prontamente e com a satisfação de quem o aguardava com ansiedade. E olhem que minha mulher não esconde de ninguém que cozinhar não está entre as suas predileções.
Ainda hoje me vem à mente as comidas de minha mãe. Nada tinham de excepcional, tampouco se diferençavam muito do cardápio corriqueiro das famílias interioranas: basicamente bifes, cozidos e guisados de carne de boi, peixe frito, moqueado e cozido, eventualmente galinha (o manjar das ocasiões especiais), acompanhados, quase sempre, de arroz, feijão ou macarrão. Os temperos, também, eram aqueles conhecidos: vinagre, sal, cebola, pimenta-do-reino, cominho, cheiro verde, etc. Nada obstante, nem precisavam ficar inteiramente prontas para aguçar nossos paladares. O cheiro bom que exalava das panelas já se incumbia de fazê-lo.
Certamente, há quem cozinhe de forma mais elaborada e até sofisticada. Já provei quitutes muito bons em recepções e em concorridos restaurantes que eventualmente frequentei, dentro e fora do país. Sem desmerecê-los ou estabelecer inadequadas comparações, pessoalmente afino-me mais com as comidas caseiras. Tanto aquelas feitas pela minha saudosa mãe, quanto as preparadas pela minha esposa, sempre me satisfizeram muito bem.
Trago comigo a sensação de que nunca hei de comer uma galinha assada de panela tão gostosa como a que a Dona Áurea preparava. Aliás, parece que esse acepipe morreu com ela, já que nunca mais o vi ou voltei a experimentar. Claro, a matéria-prima ajudava. Afinal, tratava-se de ave criada no quintal de casa, alimentada com milho, bem diferente dos frangos insípidos ou dos galináceos caipiras de procedência duvidosa adquiridos em açougues e supermercados. Decisivamente, porém, o que a tornava apetitosa era a forma de temperá-la e de cozê-la.
Vez por outra até que mamãe ousava sair do trivial. Preparava uma refeição chamada cebola recheada, que consistia em retirar os folhos centrais de alguns bulbos e encher os espaços vazios com carne moída; em seguida, acondicionava-os dentro de uma assadeira, recobria-os com ovos batidos e levava o refratário ao forno. Lembro-me, também, da festejada paçoca de pirarucu, que ela fazia assando de brasa uma posta do peixe seco, pilando-a, depois, juntamente com castanhas-do-pará e pimenta de cheiro. Ambos pitéus de dar água na boca.
Todavia, era no preparo de um pitiú assado que ela se superava. Não que a tarefa exigisse as aptidões culinárias de um mestre-cuca. Ela a executava, porém, com o esmero de quem deseja realizar algo bem feito. Depois de morto, o animal era escaldado e as peles das partes que sobressaíam da carapaça limpas cuidadosamente. Lançava-o, então, no braseiro e ia, pacientemente, controlando o processo de cozimento. Assava primeiro a parte das costas, depois a do peito, em seguida dava um jeito de deixá-lo na vertical de cabeça para baixo, depois invertia essa posição. Tudo para deixar o animal bem tostado por inteiro. Em intervalos regulares, levantava-o do fogo e aparava a gordura que escorria de seu corpo em uma tigela com alho, limão e outros ingredientes.
Enfim, quando julgava que o quelônio atingira o ponto ideal – livre do inconveniente de servi-lo mal-assado – retirava-o do fogo, quebrava-lhe os ossos do casco e dedicava-se à delicada tarefa de localizar o fel e de retirá-lo com o máximo de zelo, a fim de evitar que algum rompimento acidental deixasse amargas as carnes do petisco. Separava então os ovos, quando havia, desfazia-se das tripas e a apetitosa comida estava em condições de ir à mesa.
Restava ainda, no entanto, uma última providência a ser adotada. Após o descarte do casco e das vísceras não aproveitáveis, a parte comestível não excedia dois quilos. Era pouco para uma família numerosa como a nossa. Dois pitiús estariam mais em conformidade com a demanda. Mas às vezes só havia um. Cabia à mamãe, então, a missão nada fácil de realizar a partilha de tal maneira que, ao final, todos se sentissem razoavelmente saciados.
Sua vivência de gestora do lar funcionava nessa hora. Começava por separar os dois quartos traseiros para os adultos. O remanescente, ela destrinchava, amassava manualmente os fragmentos de carne com porções generosas de arroz e farinha d’água dentro de um alguidar e umedecia tudo com parte do molho feito com a gordura que armazenara na etapa de cozimento. Promovia, por fim, a distribuição da mistura resultante junto à criançada, complementada com uma porção equitativa dos ovos retirados do ventre do réptil. Pronto! Daí por diante era só fazer bom proveito de uma iguaria a um só tempo deliciosa e inesquecível.


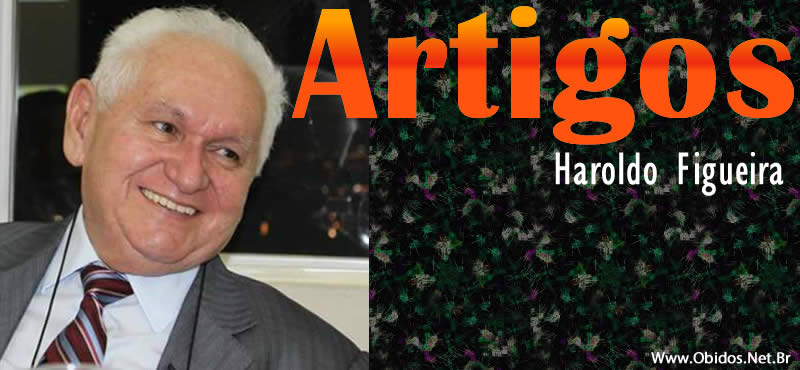







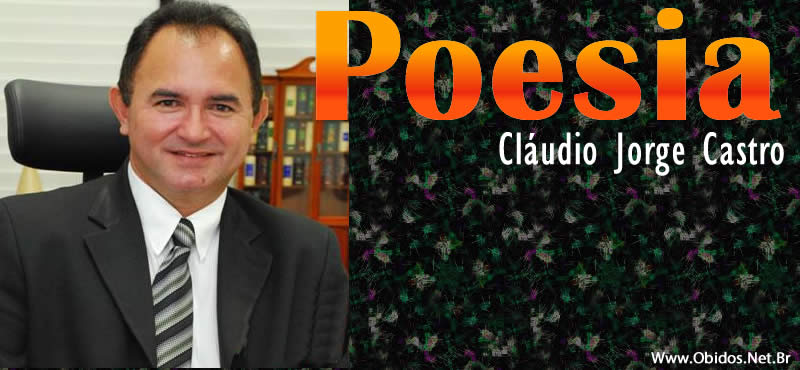



.jpg)


.jpg)




