Haroldo Figueira
Vivemos tempos perigosos. A violência, sobretudo aquela promovida pela criminalidade, revela-se cada vez mais avassaladora e fora de controle. A sensação dominante é a de que a insegurança tomou conta da convivência social. Nada parece a salvo da ação violenta dos bandidos. Nem a vida humana, muito menos bens patrimoniais.
Andar por aí portando valores pode ser fatal. Aliás, sair sem dinheiro também é arriscado. Medidas preventivas como contratar sistemas eletrônicos de proteção, usar carros blindados, erguer cercas elétricas, contratar vigilância armada não tem adiantado muito. Não ser roubado, sequestrado, agredido, assassinado, passou a ser questão de sorte, de muita sorte. A impressão que se tem é a de que o Estado como provedor de segurança dos cidadãos tornou-se impotente. E pensar que no período da minha juventude tocava-se a vida com relativa tranquilidade...
De fato. Violência sempre existiu, nunca, porém, em níveis tão alarmantes como os de agora. Para se ter uma ideia, seis décadas atrás a situação mostrava-se completamente diferente. A delinquência restringia-se mais aos grandes centros e não ia muito além das práticas de bater carteiras ou invadir residências na ausência dos moradores. Raras eram as iniciativas delituosas, promovidas por bandos armados, capazes de despertar o clamor público. Nas comunidades do interior, a polícia quase não tinha com o que se ocupar. No testemunho que darei a seguir, tentarei retratar o quanto a questão da segurança passava longe das preocupações da sociedade.
Trabalhei em instituição bancária por mais de trinta anos, tendo ingressado na atividade nos idos de 1964. No início da carreira, servi em uma agência localizada em Óbidos. Ali, em épocas de custeio de entressafras e de comercialização de safras, oportunidades em que havia grande movimentação de valores em espécie, vez por outra me via convocado pela administração do estabelecimento de crédito para realizar viagens de numerário. A tarefa consistia em me deslocar, na companhia de outro colega, até uma filial da instituição sediada em Manaus (a principal da praça), que funcionava como nossa unidade supridora de meios de pagamento.
O deslocamento durava, geralmente, dois dias, um para ir, outro para voltar e obedecia ao seguinte planejamento: o banco fretava um barco, na maioria das vezes de pequeno porte, para nos servir de meio de transporte. A embarcação nos conduzia até Santarém - onde tomávamos um avião de carreira com destino à capital amazonense - e ficava aguardando no porto o nosso retorno.
Na agência manauara, o suprimento monetário se dava por volta das cinco horas da manhã. Recebíamos e conferíamos os diversos pacotes contendo um milheiro de cédulas cada um e os acondicionávamos em uma espécie de bolsa cilíndrica de lona reforçada, assemelhada aos sacos de pancada das academias de boxe. Chamávamos então um táxi que fazia parada nas imediações, embarcávamos o valioso invólucro no porta-malas do veículo e nos dirigíamos ao aeroporto. Fazer ouvidos moucos a indagações do motorista do tipo: “quanto vocês levam aí?” constituía-se em prática rotineira.
Diante da potencial situação de risco envolvida, a companhia aérea favorecia-nos com tratamento prioritário, tanto nos procedimentos de “check in” quanto nos de embarque. Permitia, ainda, que adentrássemos a aeronave armados e acompanhados de nossa preciosa carga. Fazíamos o trajeto de regresso acomodados na fileira da frente e com os pés apoiados sobre a sacola de dinheiro.
Desembarcávamos em terras santarenas e, novamente em carro de aluguel, conduzíamos nosso carregamento até o interior da frágil embarcação que, a essa altura, nos esperava pronta para zarpar rumo à Cidade Presépio. Viajávamos por cerca de 10 horas, sempre margeando o rio Amazonas, a fim de evitar a forte correnteza mais ao largo. A bordo, só nós os dois bancários guardiões do numerário, o comandante do barco e mais ninguém.
A missão era dada por cumprida quando, quase de madrugada, com a cidade às escuras devido à falta de energia – a usina termelétrica local desligava seus motores um pouco antes da meia noite – aportávamos no cais obidense e, à luz de lanternas, o gerente pessoalmente nos recepcionava, conferia e recolhia a totalidade das cédulas aos cofres da agência.
Vale ressaltar que o esquema de defesa de que dispúnhamos para a nossa proteção pessoal e à do numerário em nosso poder consistia em portar dois revólveres calibres 38, canos longos - com cujo uso não tínhamos nenhuma familiaridade -, que trazíamos enfiados nos cintos. Carregar esse armamento junto ao corpo, o tempo todo, proporcionava-nos muito mais sensação de desconforto do que propriamente de seguridade.
Após esse relato, convido os diletos leitores a refletir, comigo, se a empreitada que acabei de descrever fosse realizada presentemente, nas mesmas condições vulneráveis de antes, teria chance de terminar com êxito. Adianto minha opinião sem receio de errar: meu companheiro de jornada e eu sairíamos no lucro se conseguíssemos preservar nossas vidas, pois o dinheiro e as armas fatalmente haveriam de parar nas mãos de criminosos. Ainda bem que os tempos eram outros!
Natal, 15 de junho de 2016.


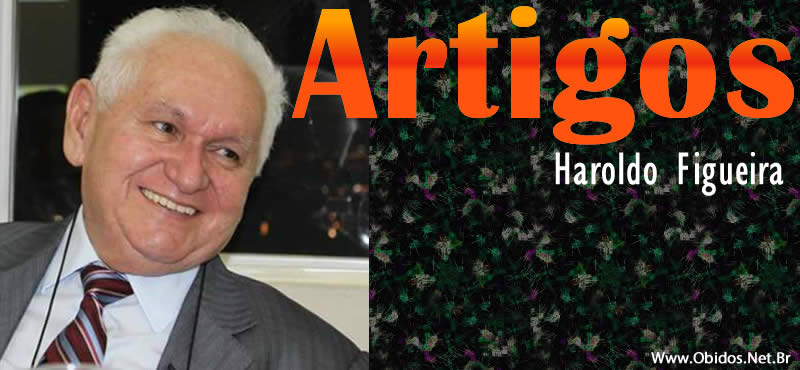







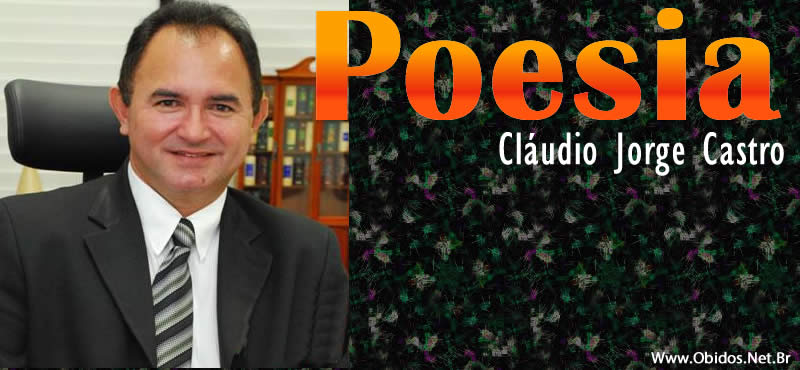



.jpg)


.jpg)




