Haroldo Figueira
Quem é da região amazônica conhece bem a palavra. Quem não é, nunca foi lá ou não possui nenhuma ligação com os habitantes locais, certamente há de estranhar ao ouvi-la. O que é isso? O que significa? Indagaria o forasteiro. Vamos lá. Vejamos o que diz o Houaiss a respeito: “odor forte, semelhante ao de peixe; cheiro de maresia...”
Esse é um dos significados. Mas existe outro, também vinculado ao regionalismo nortista: é o nome que se dá a uma variedade de tartaruga de pequeno porte, de carne saborosa, que se come assada de brasa ou de forno; hoje sua captura está proibida, devido ao risco de extinção na natureza. Confesso que fico sem atinar com a razão da dupla nomeação, uma vez que os animais envolvidos (o peixe e o quelônio) não têm quase nada em comum, nem mesmo o cheiro característico.
Isso não deveria me causar espécie, no entanto. Em nossa língua portuguesa casos de homonímia são relativamente frequentes. Vocábulos como manga e vela, por exemplo, designam coisas diferentes umas das outras. Mas essa discussão torna-se irrelevante aqui, já que pretendo discorrer sobre o termo pitiú no sentido de sensação olfativa.
Comer peixe na Amazônia é um dos principais hábitos alimentares dos povos do lugar. Até porque, dada a riqueza aquática do território amazônico, há pescado em abundância nos muitos rios de água doce que nascem ou que cortam o vastíssimo setentrião brasileiro. Natural, portanto, que os nativos estejamos familiarizados com o odor a que me refiro.
Em épocas de grande fartura piscosa, normalmente nos meses em que se inicia o processo de vazante ou de descida das águas (maio principalmente) é comum, dado o massivo consumo de peixe pela população, sentir a atmosfera das cidades do interior impregnada com o pitiú. Como todos sabemos, esse odor está longe de ser agradável, embora se possa conviver com ele.
Aliás, o cheiro não fica só no ar, parece entranhar-se, também, na pele das pessoas. Nada, porém, que uma boa higienização corporal não elimine. De um modo geral, é sentido mais entre as pessoas carentes que residem nos bairros periféricos, ponderada a situação de que essa gente nem sempre dispõe de condições financeiras para adquirir sabonetes e outros produtos desodorizantes.
Ao falar do assunto, veio-me de repente à lembrança a figura querida e saudosa de minha mãe. Mamãe, mulher extremamente simples, tanto no jeito de ser, como no linguajar e na forma de relacionar-se socialmente, era uma apreciadora tanto de peixes como de coisas doces: bombons por exemplo. Gostava muito de frutas, também, banana especialmente.
Com a idade, apareceu-lhe o diabetes e, em função da doença, restrições a uma alimentação rica em açúcares. A contragosto, aceitou abster-se da ingestão de algumas doçuras, como meio de preservar sua saúde, incluindo-se aí os bombons. Mas resistiu, o mais que pôde, em ceder no consumo de banana, para ela, item indispensável como sobremesa.
Nós, os filhos, passamos a exercer um certo policiamento sobre seu comportamento por ocasião das principais refeições. Sabendo da inclinação que tinha para comer bananas após o almoço, tentávamos insistentemente demovê-la desse hábito, mostrando-lhe que se tratava de alimento com alto teor de açúcar, contraindicado, portanto, para a sua dieta. Debalde, porém. Dona Áurea não abria mão do seu petisco predileto.
Tinha até um argumento bizarro na ponta da língua para justificar sua conduta e para que a deixássemos em paz. Dizia com toda a placidez: - meu filho, uma bananinha não vai me fazer mal... e é só para tirar o pitiú da boca. O desconcertante é que utilizava essa justificativa mesmo que a comida principal servida à mesa não fosse peixe.


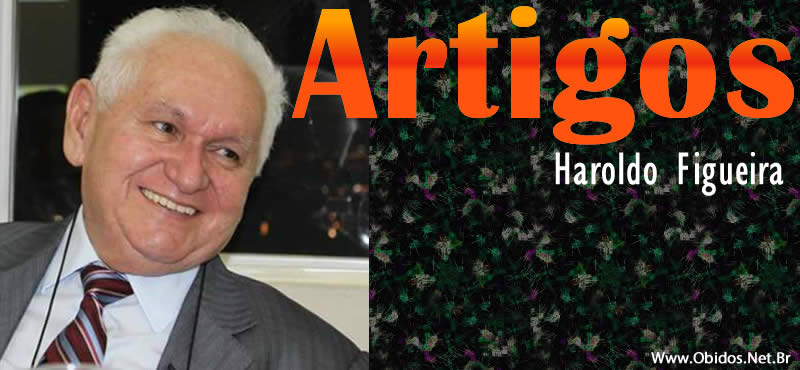









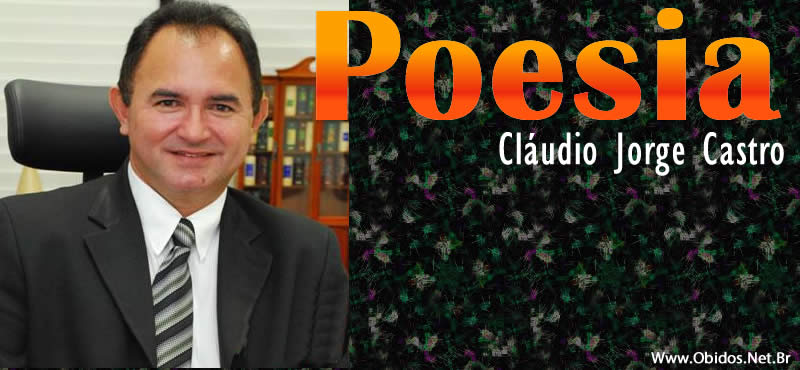

.jpg)


.jpg)





Comentários